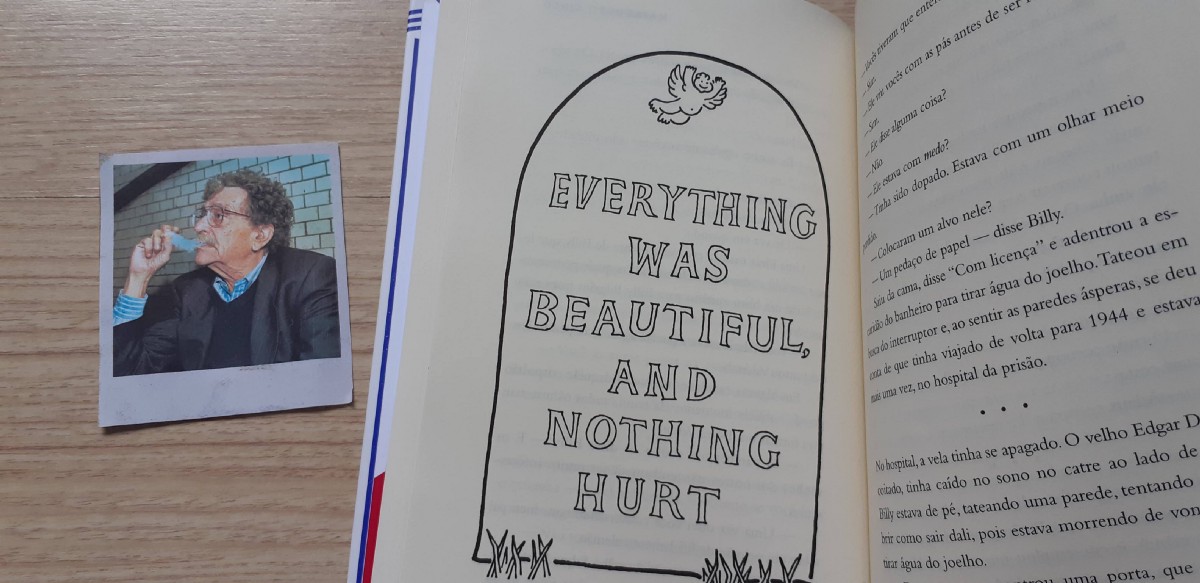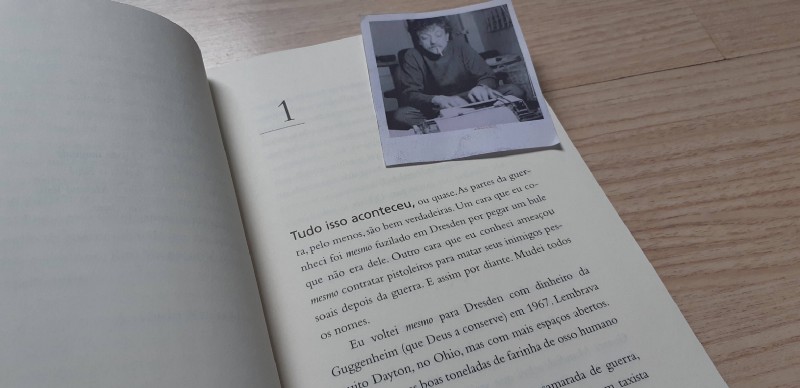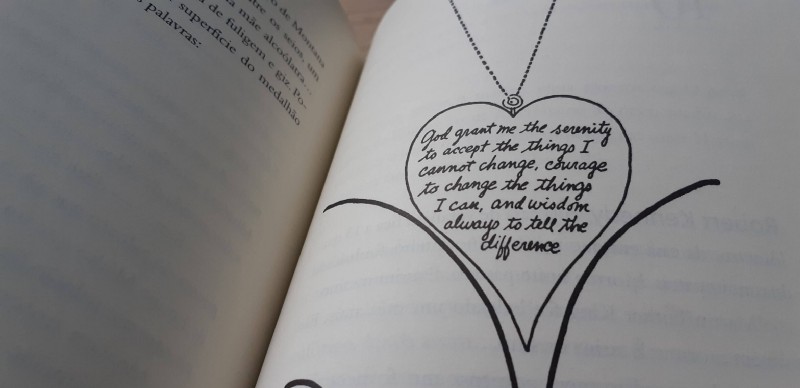Spoilers da Parte 1.
Mesmo adorando o trabalho de Brit Marling no cinema, demorei para entrar na lista de fãs de The OA. Foi mais uma questão de sempre esquecer que a série estava ali, e agora fico pensando nela o tempo todo. Mas finalmente assisti e fiz um texto sobre a primeira temporada. Felizmente, por ter demorado tanto para fazer isso, não sofri esperando mais de dois anos pelo retorno da série (não sei como os fãs aguentaram tanto tempo), e ainda por cima, apenas algumas semanas depois, é anunciada a data definitiva para a continuação. E aqui estou, sentindo o impacto dos oito episódios lançados na última sexta-feira (22 de março), tentando botar os pensamentos em ordem para escrever algumas linhas, derrubando algumas lágrimas ao lembrar que passei a fazer parte daqueles que vão esperar anos pela terceira temporada.
Passei o primeiro parágrafo falando de “temporadas”, mas a série é tecnicamente dividida em “partes”, então é assim que chamarei daqui pra frente.
The OA retorna depois de deixar algumas coisas importantes em aberto na sua Parte 1. Com um desfecho inesperado e uma cena nos créditos finais que piora a situação de qualquer um com ansiedade, a série tem muito o que cobrir. Agora estamos em outra dimensão, Prairie conseguiu “saltar”, mas ainda precisa lidar com vários obstáculos. Hap arranjou uma maneira de atravessar para o mesmo lugar e aproveita sua posição privilegiada como doutor para tomar conta da OA, obviamente considerada louca por conta de sua história. Ele também consegue capturar todas as suas cobaias, mas percebe que Homer é um caso diferente (mais dele para frente). Paralelamente, a série introduz um segundo protagonista e uma trama que toma conta de quase metade dessa segunda parte: o detetive Karim Washington, empenhado em investigar o desaparecimento de uma jovem. Na dimensão original (chamarei assim para poder diferenciar), os jovens e BBA correm conta o tempo para descobrir novas pistas indicando que a OA pode estar viva.
The OA se posiciona como uma das produções mais originais atualmente, e eu ouso arriscar que é o mais próximo que teremos de algo no nível de Twin Peaks (que saudades de você!). A segunda parte mescla alguns gêneros sem perder seu ritmo. A ficção científica ainda é uma base para a série, mas o misticismo, já presente antes, agora tem um papel ainda maior na jornada. A produção chega a explorar um pouco de suspense também, incluindo uma subtrama que beira os filmes clássicos de casa mal assombrada, com novos conceitos que expandem ainda mais a ideia do jardim bifurcado (primordial para a compreensão de grande parte da série). Como se não fosse suficiente, a missão do detetive Karim tem a atmosfera perfeita para um thriller policial.

Transitar entre gêneros é algo que a série faz bem, mas isso não chega perto de descrever toda a loucura que a segunda parte traz para o público. Zal Batmanglij e Brit Marling justificaram a demora para a continuação da história. The OA ficou maior e mais ambiciosa, abrindo as portas para a dupla arriscar mais com o universo que criou, incluindo um episódio inteiro que parece ter saído da cabeça de David Lynch, utilizando tudo que conhecemos sobre séries para destruir a expectativa de quem espera uma narrativa mastigada. Isso não é apenas enredo, estou falando também das decisões visuais usadas para representar o que nossa mente não está treinada para assimilar com facilidade. Para ajudar nisso, Batmanglij emprestou a cadeira de diretor por três episódios para Andrew Haigh e Anna Rose Holmer, responsáveis por ótimos filmes como The Fits e Weekend, respectivamente.
Trazer o abstrato para uma mídia visual é arriscado, e The OA é um dos poucos casos onde há consistência no absurdo e beleza no grotesco, e até mesmo no ridículo. Há sequencias envolvendo um conjunto de robôs que pode soar bobo e fora de lugar, e talvez essa seja uma das poucas partes onde a série poderia se beneficiar abraçando um pouco a ideia de se levar menos à sério, pelo menos em alguns aspectos (algo que Twin Peaks faz com maestria). Mas não é toda vez que isso acontece, principalmente porque você não espera se sentir tão intrigado assistindo um dos momentos mais impensáveis de toda a série (você vai saber exatamente do que estou falando quando chegar nela, mas se tiver dúvida, ela envolve tentáculos), que provavelmente vai afastar uma parte do público, mas conquistar completamente outra, principalmente depois da atuação de Marling, sempre se entregando para as cenas.
Três tramas paralelas podem ser um sinal preocupante para quem assiste, ainda por cima quando elas tem propostas distintas. Seria um desperdício de tempo se toda a apresentação de novos personagens e mundos atrapalhasse o ritmo dos episódios. Felizmente, essa Parte 2 é maior e melhor em muitos aspectos. Karim é a aposta mais perigosa, sendo um novo membro com uma trama própria, mas Kingsley Ben-Adir é mais do que a figura de autoridade que assume uma responsabilidade. O ator revela-se um dos componentes mais atraentes da história, indo de investigador confiante e carismático para um homem com dificuldades na hora de se relacionar com as pessoas mais próximas. É bom ver que, mesmo com todo o destaque para o fantástico, o drama ainda é o que move a série.
O núcleo dos jovens e BBA também está melhor. Depois de passar a maior parte da primeira parte (queria chamar de temporada, mas…) como testemunhas da jornada de Prairie, tomando atitudes apenas nos episódios finais, podemos nos dedicar aos traumas e dilemas de cada um. Com a revelação de que Prairie pode estar viva, o grupo faz uma viagem pela estrada, passando por obstáculos que testam sua amizade. Cada um dos personagens tem seus próprios demônios para lidar, mas devem correr contra o tempo na busca de respostas. Assim como eles, Prairie e seus companheiros estão em uma prisão pior que a anterior, uma que não precisa ser escondida. Para piorar a situação, Homer não parece ter tido sucesso durante o salto, resultando em mais um trabalho para a Oa, que agora precisa trazê-lo de volta. Os dois tem uma bagagem emocional forte, e é outro crédito para a série ter dois atores tão bons dividindo isso. Emory Cohen (que interpreta Homer) e Marling tem a dura tarefa de interpretar mais de um personagem, mesmo que dividam o mesmo corpo. Só posso deixar aqui meus elogios para a forma como os dois conseguiram usar tudo que tinham para criar personalidades opostas ao que estavam acostumados, principalmente Marling, que muda sua linguagem corporal de maneira impressionante para tomar o lugar de Nina Azarova, sua versão que sobreviveu ao acidente de ônibus.

Cada linha narrativa é muito bem executada, sem perder o ritmo, aumentando a atenção do público para um desfecho mais impressionante que o anterior. As tramas convergem e culminam em uma grande jornada sobre união e fé, resultando em uma conclusão que se joga de cabeça em algo que promete ser um exercício de metalinguagem como poucos (mas isso só o tempo dirá).
A ambição da série não está apenas na narrativa e no visual, ou no acréscimo de dois diretores talentosos, mas no próprio elenco. Além do retorno de Riz Ahmed, que na época não era tão cotado quanto hoje, temos a presença da atriz Zendaya, em uma atuação contida e mais pontual que não distrai em momento algum. O que surpreendentemente acaba atrapalhando um pouco é a presença de Ahmed. Sua participação é apressada e surge de maneira conveniente, entregando informações que talvez fossem melhor mantidas em segredo para manter a ambiguidade de um dos mistérios da primeira parte. E por falar nisso, é sentida a falta de alguns elementos recorrentes da primeira parte, como as conversas com Khatun, que eram partes importantes para a Oa.
O que transformou The OA em um evento para mim é a forma como abraça cada pedaço da trama, até aqueles que podem soar vergonhosos à principio, mas que logo revelam-se um momento executado com tanta honestidade e vontade de inovar que você passa a admirar com mais força. Ainda que tenha suas subtramas e conclua a jornada da temporada, essa é uma produção que não se apoia apenas em análises e teorias mirabolantes, se dedicando em estimular os sentidos com um mundo incrível.
Vamos torcer por mais séries nesse nível. É questão de fé!
Ficha Técnica:
The OA, S02
Criada por Zal Batmanglij e Brit Marling
Direção de Zal Batmanglij, Andrew Haigh e Anna Rose Holmer
Roteiro de Zal Batmanglij, Brit Marling, Dominic Orlando…
Atuações de Brit Marling, Emory Cohen, Patrick Gibson, Jason Isaacs, Ian Alexander, Phyllis Smith, Kingsley Ben-Adir